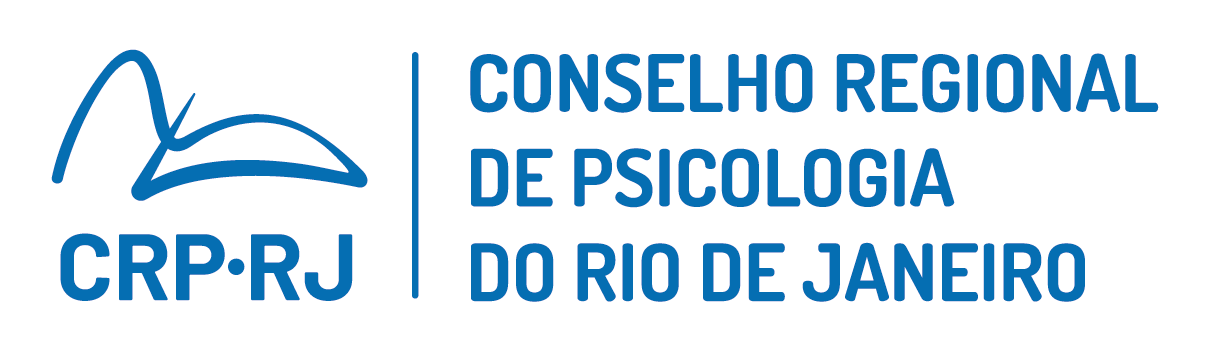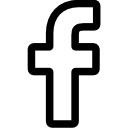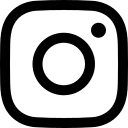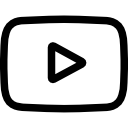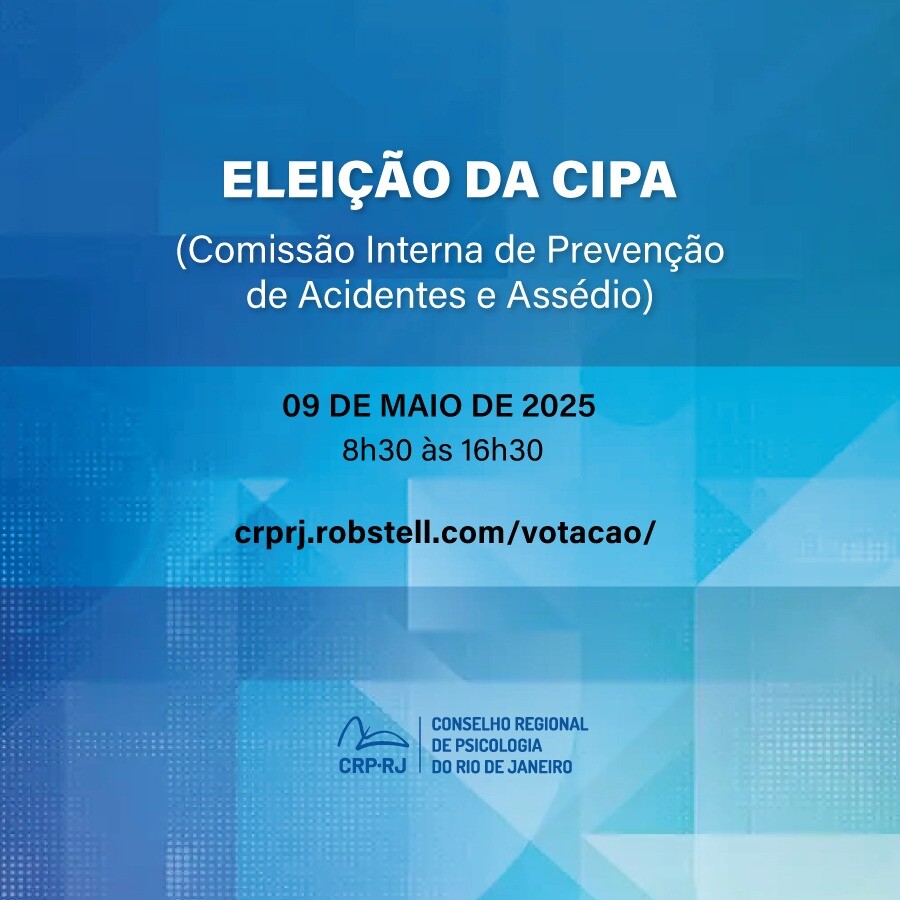Com os mais recentes atos da prefeitura do Rio de Janeiro de recolhimento e internação compulsória de usuários de crack, um assunto muitas vezes esquecido acabou voltando à tona: a atuação das comunidades terapêuticas no acolhimento a usuários de drogas.
Inicialmente surgidas na Inglaterra da década de 1940, com intuito de promover o tratamento de pessoas com transtornos mentais, as chamadas Comunidades Terapêuticas Psiquiátricas despontam como espaços de práticas pioneiras, norteadas pela potencialização do saber do paciente e de seu protagonismo na sociedade.
Contudo, entre as décadas de 1960 e 1970, começa a proliferar-se nos EUA, e mais tarde na Europa e America Latina, um outro tipo de comunidade terapêutica voltada para dependentes químicos: as chamadas Comunidades Terapêuticas de Conceito. Essas comunidades eram influenciadas por crenças religiosas que sustentavam ideias centradas no cuidado mútuo e em valores de honestidade, pureza, reparação de danos e reconhecimento dos defeitos de caráter.
Esse segundo tipo de comunidade terapêutica recebeu influências também de grupos de mútua-ajuda, atuantes ainda hoje, como os Alcóolicos Anônimos (AA), fundado em 1935 por dois alcoólicos em recuperação, Bill Wilson e Bob Smith. O programa estabelecido por esses grupos pauta-se no processo de 12 passos e 12 tradições que levariam à recuperação total dos dependentes químicos.
Conforme destaca Rodrigo da Silva Simas (CRP 05/36848), psicólogo do Consultório na Rua AP 3.2, ligado à Secretaria Municipal de Saúde do Rio, “a função primordial das comunidades terapêuticas era tratar comportamentos desviantes para a vida em sociedade de modo a tornar possível o retorno do indivíduo ao convívio social. Não podemos descrever uma categoria geral de comunidades terapêuticas, pois existem diversas instituições com funcionamentos absolutamente distintos. No contexto atual e particular do Rio de Janeiro, a maioria das casas – pois prefiro não chamar de instituição – é gerida por membros de instituições religiosas. Em geral, elas não possuem equipe técnica, tampouco condições de higiene e espaço adequados para receber pessoas. Em geral, pregam que a religião é o meio de cura, quando não adaptam os 12 passos dos grupos de mútua-ajuda para os doze passos da salvação”.
A importância da Lei 10.216
Publicada no dia 6 de abril de 2001 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, a lei 10.216 foi celebrada como um avanço ao estabelecer diretrizes sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, reestruturando o modelo assistencial em saúde mental. Entre outras coisas, a lei cria os serviços substitutivos de saúde mental, tirando o foco sobre o modelo hospitalocêntrico para o tratamento em saúde mental e criando dispositivos de assistência como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os serviços residenciais-terapêuticos.
Dentro dessa nova perspectiva concretizada a partir da Lei 10.216, avalia Rodrigo, as comunidades terapêuticas (CTs) e demais espaços para tratar os ditos dependentes químicos “funcionam na contramão das políticas públicas atuais”. Segundo ele, “as CTs em geral ficam em locais isolados, rompendo integralmente com o cotidiano do assistido – muitas vezes a família tem acesso impedido ou restrito a esses locais. As CTs propõem longos períodos de isolamento (seis, nove meses e até um ano) e obrigam a aceitação de crenças religiosas postuladas pela instituição mantenedora”.
Na avaliação de Rodrigo, “outro ponto absolutamente divergente da proposta das CTs em relação às políticas públicas de saúde para usuários de álcool e outras drogas é a adoção do modelo da abstinência, visto que, desde 2003, o Brasil adota a redução de danos como modelo assistencial a esses usuários. Além disso, essas instituições funcionam em sua maioria precariamente, pois não contam com profissionais de saúde capacitados, além de em muitos casos verificarmos maus tratos, superlotação, exposição pública, cárcere privado, trabalho forçado, entre outros”.
Internação compulsória
A Lei 10.216 encaminha também novas e importantes diretrizes referentes aos modelos de internação: compulsória, voluntária e involuntária. Esse é um esclarecimento importante, tendo em vista a confusão frequentemente feita a esse respeito. Conforme explica o psicólogo Alexandre Vasilenskas Gil (CRP 05/30741), doutor em Saúde Coletiva, enquanto a internação compulsória acontece contra a vontade da pessoa a partir de ordem judicial, a internação involuntária é feita mediante avaliação médica, preferencialmente na presença dos familiares desse paciente. Já a internação voluntária acontece em concordância à vontade do paciente.
No caso específico do Rio de Janeiro, têm tornado-se rotina internações promovidas pela prefeitura da cidade, especialmente no que se refere aos dependentes de crack, atualmente concentrados em sua maioria nas redondezas do conjunto de favelas da Maré, às margens da Avenida Brasil, uma importante via expressa da cidade.
Na avaliação de Alexandre, tais internações promovidas em massa “constituem uma aberração jurídica, já que a lei exige a individualização das condutas. As internações compulsórias já vêm se realizando há cerca de dois anos para crianças e adolescentes no Rio, com resultados pífios de cerca de 25% de sucesso de reinserção social e tratamento, sendo que as fugas chegam a 59%”.
O psicólogo eleva o tom de crítica às medidas da prefeitura do Rio argumentando que “os últimos recolhimentos não se constituíram em internações compulsórias. Tratou-se simplesmente de recolher maciçamente a população de rua nos locais de cenas de uso, levá-la ao abrigo Rio Acolhedor, em Paciência, – tudo isso feito em vácuo jurídico – e perguntá-la ‘quem queria se internar’”.
Para ele, a situação é ainda mais alarmante se considerarmos a precária estrutura assistencial da cidade. “O Rio possui uma baixíssima rede AD (álcool e outras drogas). O Ministério da Saúde prevê uma rede de serviços condizente com a Lei 10.216, que simplesmente não vem sendo implantada pelo município. Atualmente, a cidade possui apenas quatro CAPS-AD (Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas) e três equipes de consultório na rua, que atendem os pacientes in loco nas próprias cenas de uso”.
O psicólogo aponta ainda a redução de danos como um possível caminho para o êxito das políticas públicas no tratamento aos usuários de álcool e outras drogas no Brasil. “Internacionalmente, os países com mais sucesso em resolver questões em grande escala de uso de drogas adotaram programas de atendimento no interior da comunidade – usando as internações apenas para casos excepcionais – e dentro da perspectiva da redução de danos.Trata-se de um conjunto de políticas e ações de saúde que preconizam o cuidado psicossocial do usuários mesmo em situações de não abstinência e continuidade do uso da substância”.