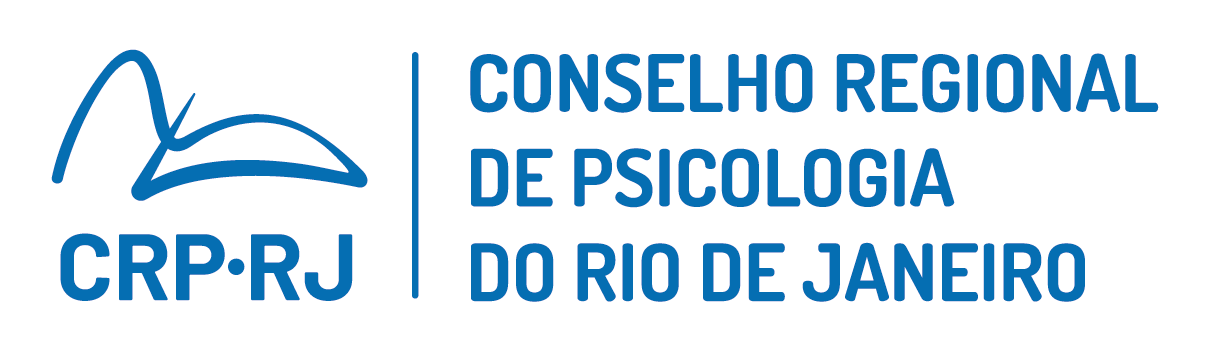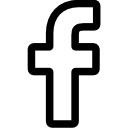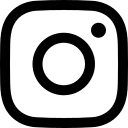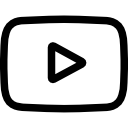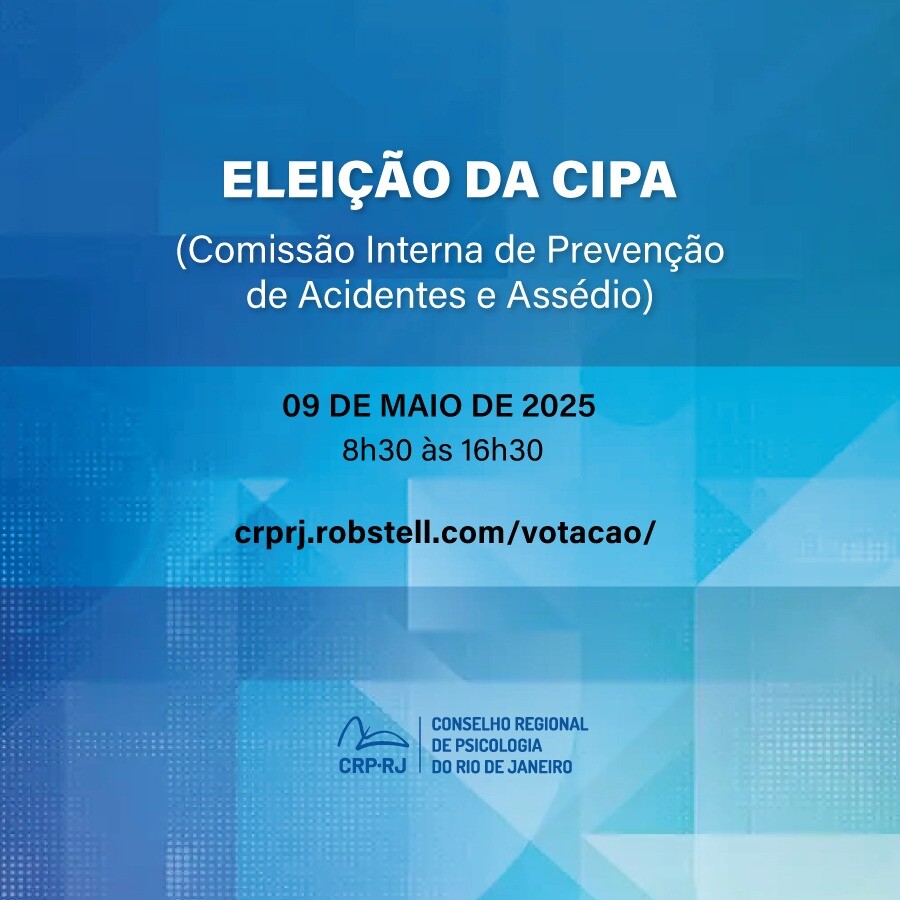Parecer sobre o PL 5921/2001, que “Dispõe sobre a publicidade de produtos e serviços dirigidos à criança e ao adolescente”, formulado pelo Professor Yves de La Taille, a pedido do Conselho Federal de Psicologia.
1) Desejo e poder de compra
É dito no documento que as propagandas criam ou ampliam o desejo pelo consumo dos objetos veiculados. Se a publicidade é realizada com competência, é de fato isto que acontece, embora deva-se ressaltar que a criança não é um ser passivo: ela tem desejos e interesses próprios que a dirigem para vontades de aquisição de certos objetos, e não de outros, e isto desde a mais tenra infância. Mas, mesmo feita essa ressalva a respeito da progressiva construção da autonomia por parte da criança, não deixa de ser ponto central e pacífico a influência que certamente não deixará de sofrer ao assistir a propagandas especialmente dirigidas para sua faixa etária. Aliás, tal afirmação não vale apenas para a criança. Vale para os adolescentes e os adultos, eles também potencialmente influenciáveis pelas propagandas. Não fosse o caso, não se gastaria tanto dinheiro para produzi-las e veiculá-las.
Dois problemas então se colocam. O primeiro, enfatizado pelo documento: o da criança pobre que não poderá ter acesso às mercadorias desejadas. O segundo, que se coloca para as crianças de todas as classes sociais: despertar desejos de consumo de objetos totalmente inúteis ou até inapropriados para os pequenos consumidores. Tratarei do segundo no item seguinte, quando falar da ‘manipulação’.
Fixemo-nos no problema da criança pobre, cujos pais não têm dinheiro para comprar a plêiade de objetos sedutores (freqüentemente muito caros). É dito no documento que poderá ficar frustrada, que a recusa dos pais poderá abalar a relação pais e filhos. Penso que tal análise está correta. Acrescentaria que pode acontecer pais preferirem comprar os objetos veiculados pelas propagandas a gastar o dinheiro com outras coisas mais úteis para o desenvolvimento e saúde dos filhos (livros, alimentos de boa qualidade, etc.). Aliás, creio que tal fenômeno deve ocorrer até nas classes sociais mais abastadas: basta ver o número de crianças com celulares, roupas de grife, etc. para deduzir que, em variados casos, coisas ricas e até essenciais à infância deixaram de ser adquiridas.
Isto posto, creio ser necessário sublinhar que as ponderações acima feitas não dizem diretamente respeito à publicidade infantil, mas também a várias destinadas a públicos de maior idade. Despertar desejos de compra entre a população mais pobre é o que as propagandas certamente fazem, sejam elas dirigidas a adultos, a adolescentes ou a crianças. Conhece-se a famosa metáfora do cão que fica olhando para máquinas de assar frangos: é tortura, pois a comida está ali, pode despertar o apetite até de quem não está faminto, mas é inatingível. Ora, tal metáfora aplica-se, penso eu, à maioria das publicidades, notadamente as veiculadas na televisão: elas escancaram a existência de variados objetos e serviços, os apresentam como desejáveis, mas são inalcançáveis para a maioria da população. O documento toca, portanto, num ponto que transcende a questão da relação criança/publicidade, pois tal ponto, a rigor, pouco tem a ver com a idade de quem é exposto aos anúncios. Está certo o documento quando diz que pode haver abalos na relação pais/filhos, mas penso que exagera quando também afirma que algumas ‘terminam por querer à força o objeto de seu desejo’. Não discordo dessa afirmação, mas o documento passa a idéia de que seria característica estritamente infantil. Mas não é. É claro que algumas crianças poderão ser levadas a essa forma de violência, mas adolescentes e adultos também poderão optar pela mesma via, e provavelmente até mais.
Em resumo, creio que o documento deveria fazer uma distinção mais clara do que se refere aos efeitos da publicidade em geral, como despertar desejos insaciáveis em razão do poder aquisitivo da pessoa, e aqueles específicos da infância, como criar atritos entre pais e filhos ou levar esses últimos a gastarem seu dinheiro com objetos que não deveriam ser prioritários, e deixar de adquirir aqueles que deveriam sê-lo.
Vamos agora falar de um aspecto estritamente relacionado às características psicológicas da criança: a imaturidade emocional e intelectual.
2) A ‘manipulação’
O conceito de ‘manipulação’ não se associa necessariamente a um valor negativo.
Manipulam-se objetos, por exemplo. Qualquer discurso que visa a convencer outrem traduz uma forma de manipulação. O compositor, ao fazer a sua música, visa a envolver o ouvinte, a seduzi-lo com novos sons, e assim o manipula, como manipula seus leitores o romancista que consegue fazê-los se emocionar. Portanto, se problema moral há com a manipulação, esse não se resume ao fato de ela existir em variadas relações sociais.
O problema moral ocorre quando o beneficiário da manipulação é o manipulador, e não a pessoa manipulada. Voltando ao exemplo do compositor, se ele consegue obter transformações na forma de o ouvinte apreciar música, tal ouvinte é o primeiro beneficiado. Mesma coisa pode ser dita do escritor ou do argumentador. Mas pode ocorrer de a manipulação ser feita com o objetivo de instrumentalizar outrem para benefício de quem manipula. Por exemplo, se alguém procura convencer outra pessoa de que seu interesse está em fazer tal ou tal coisa, quando, na verdade, tal interesse inexiste, sendo que o convencimento alheio trará proveito para quem procura inculcar-lhe certas idéias, temos um transgressão moral. É de Kant a bela fórmula (imperativo categórico): devemos sempre agir de modo a que o outro seja um fim em si mesmo, e não um meio.
Voltando ao tema das publicidades, devemos nos perguntar, do ponto de vista moral, qual o seu fim, o seu objetivo? Beneficiar quem a assiste? Ou beneficiar quem produz e vende o produto? Creio não ser preciso responder a essa pergunta.
Alguém poderá fazer a seguinte ponderação: é claro que o objetivo primeiro da publicidade é vender o produto, logo beneficiar o anunciante, mas o senso moral deste não deixa necessariamente de existir, pois ele criou um objeto que não cria danos ao consumidor, e não há na sua publicidade nada que descrimine ou humilhe o cidadão. Sim, porém, com que direito ele resolve ‘penetrar’ a psique alheia para, de certa forma, transformá-la em benefício próprio? Pois é isto, sejamos sinceros, que as propagandas fazem, e fazem cada vez mais: basta ver que cada vez menos cantam as glórias do produto em si, e cada vez mais falam das supostas qualidades pessoais do feliz comprador.
Mas, mais uma vez, alguém poderá dizer que as pessoas são o bastante inteligentes e fortes para não se deixarem manipular pelas publicidades. Admitamos que seja verdade para os adultos, mas será que o é para as crianças? Agora sim, estamos numa problemática tipicamente infantil. Uma pergunta feita no documento coloca bem a questão: “Em relação à publicidade infantil, existe a preocupação em saber se o público-alvo tem condições de avaliar a importância, o interesse e a capacidade de aquisição do que se anuncia?”.
Os profissionais da publicidade, ou parte deles, talvez não tenham essa preocupação. Mas quem visa a proteger as crianças deve tê-la. Analisemos, portanto, a questão por intermédio dos conhecimentos da Psicologia do Desenvolvimento.
Afirma o documento que “as crianças não têm, e os adolescentes não têm a mesma capacidade de resistência mental e de compreensão da realidade que um adulto e, portanto, não estão em condições de enfrentar com igualdade de força a pressão exercida pela publicidade no que se refere à questão do consumo. A luta é totalmente desigual.”. O texto também lembra do CDC que proíbe se tirar proveito “da deficiência de julgamento e experiência da criança”. Finalmente, lê-se no Artigo 3 do Decreto Lei em tela que é preciso “respeitar a ingenuidade, a credulidade, a deficiência de julgamento e o sentimento de lealdade dos menores” (grifos meus).
Analisemos alguns dos termos empregados nas citações acima, começando pela ‘capacidade de resistência mental’. Dois termos psicológicos devem ser aqui lembrados: ‘autonomia’ e ‘força de vontade’.
O conceito de autonomia é polisêmico. Em psicologia costuma ser empregado para se referir à capacidade de discernimento e de juízo sem referência a alguma fonte exterior de prestígio e/ou autoridade. Na área moral, por exemplo, a criança não autônoma, portanto heterônoma (ou heteronômica) legítima regras de conduta porque valorizadas e colocadas pelos pais. Outro exemplo, na área do conhecimento, tende a pensar como necessariamente verdadeiras afirmações vindas de figuras de autoridade. Nos dois exemplos dados, a legitimação da regra ou da verdade não se deve a um trabalho intelectual de análise, mas sim pela submissão da consciência a pessoas consideradas superiores. A heteronomia pode também ser decorrente da submissão do juízo pessoal ao juízo dominante num grupo, que nesse caso desempenha o papel da autoridade. Note-se que a heteronomia não é apenas característica infantil, pois muitos adultos permanecem a vida toda na dependência de dimensões transcendentes à sua própria consciência para julgar e conhecer. Todavia, no caso dos adultos, tal heteronomia é mais decorrência de uma visão de mundo do que de limitações intelectuais inerentes à idade. Ora, no caso da criança, tal inerência existe. Se a criança coloca-se, sobretudo, numa posição de heteronomia, é porque, por um lado, ela está iniciando-se à regras, aos valores e aos conhecimentos do mundo em que vive, e para tanto, seguir ‘guias’ é tão natural quanto necessário, e, por outro, porque sua capacidade cognitiva ainda não lhe permite estabelecer relações de reciprocidade, relações essas necessárias à autonomia.
A autonomia intelectual e moral é construída paulatinamente. É preciso esperar, em média, a idade dos 12 anos para que o indivíduo possua um repertório cognitivo capaz de liberá-lo, tanto do ponto de vista cognitivo quanto moral, da forte referência a fontes exteriores de prestígio e autoridade.
Decorre do que foi rapidamente lembrado acima que, se interpretarmos ‘resistência mental’ como a capacidade de passar as mensagens alheias pelo crivo da crítica, temos de fato que tal resistência, na criança, é inferior à do adulto. Como as propagandas para público infantil costumam ser veiculadas pela mídia, e que a mídia costuma ser vista como instituição de prestigio, é certo que seu poder de influência pode ser grande sobre as crianças. Logo, existe a tendência de a criança julgar que aquilo que mostram é realmente como é, e que aquilo que dizem ser sensacional, necessário, de valor, realmente possui essas qualidades. Acrescentaria aqui que é coerente com o espírito de todo o texto do Decreto a referência ao emprego de personagens que dirigem programas infantis. Com efeito, tais personagens costumam ter grande prestígio aos olhos da criança, serem para elas quase que figuras de autoridade: logo, seu poder de influência é grande, e acaba sendo exercido, não em benefício da criança, mas sim do anunciante.
Quanto ao adolescente, não vale o que acaba de ser analisado no que tange a falta de autonomia moral e intelectual. Que ele tenha ‘menos resistência mental’ que um adulto, é claro. Mas isso se deve mais à falta de experiência de vida do que a características estruturais do seu intelecto e de sua moral. Logo, assim como de um adulto de 30 anos espera-se maior capacidade de ‘resistência mental’ a tentativas de manipulação do que de um adulto de 20, espera-se mais deste último do que de um adolescente. Trata-se mais de uma diferença de grau do que de estrutura.
Acabamos de falar da dimensão intelectual da referida ‘resistência’; Mas é preciso falar também da dimensão afetiva. E para tanto devemos falar de ‘vontade’ e ‘força de vontade’. Com efeito, para resistir a propostas que procuram nos fazer sonhar com momentos de prazer e alegria, precisamos ter, nós mesmo, outros desejos de prazer e alegria. Dito de outra maneira, é mais fácil induzir alguém que não sabe bem o que quer a desejar algo que lhe propomos, do que ter o mesmo êxito com alguém que já tem um projeto definido.
Os conceitos de ‘vontade’ e ‘força de vontade’ podem nos ajudar a equacionar a questão. Vamos entender ‘vontade’ como energia afetiva passageira e isolada, que pode ser forte ou fraca (envie, em francês). Tal definição corresponde a expressões tais como ‘tenho vontade de beber água’, ‘tenho vontade de ir ao cinema’, ‘não tenho vontade de dormir’. Vamos definir ‘força de vontade’ como energia afetiva forte (volonté, em francês): ‘é preciso força de vontade para treinar horas por dia’, ‘é preciso força de vontade para levar a cabo um trabalho longo’, ‘não deixar-se abalar pelo fracasso é prova de força de vontade’, etc.
Isto posto, verifica-se que a força de vontade é energia afetiva mais forte que a vontade.
Vejamos um exemplo.
Enquanto uma pessoa está arrumando os livros de sua biblioteca num domingo à tarde, ela recebe um telefonema no qual a convidam a passar a tarde num sítio. Imaginemos que a tarefa de limpar e classificar os livros seja, para ela, tediosa. E imaginemos também que ela muito aprecia saídas a sítio para conversar com os colegas. Nesse caso, é muito provável que o convite seja muito atrativo e que ela tenha vontade de aceitá-lo, o que acarretaria abandonar a tarefa de arrumação. Todavia, imaginemos também que tal trabalho seja necessário para a boa conservação dos livros, que a organização correta da biblioteca seja necessária ao desenvolvimento de seu trabalho, que lhe permitirá receber alunos em melhores condições, etc. Imaginemos, portanto, que o trabalho de arrumação, embora maçante, tenha variadas conseqüências. No quadro assim descrito, se a pessoa em questão aceitar o convite, diremos que foi porque teve ‘vontade’. E diremos que se o recusa para permanecer na sua labuta, é porque teve ‘força de vontade’.
Pois bem, aceita essa diferenciação e hierarquia de forças entre a vontade e a força de vontade, cabe se perguntar por que a segunda é motivação mais poderosa do que a primeira. A reposta parece estar na tese da descentração afetiva. Voltando a nosso exemplo, o querer ir ao sítio é certamente momentaneamente mais forte do que o querer permanecer na faxina. Todavia, esse segundo querer torna-se mais forte que o primeiro porque o interessado sabe que a arrumação que está realizando articula-se a outros quereres: trabalhar em melhores condições, achar mais facilmente suas referências, receber de maneira mais agradável e produtiva seus alunos, etc. O querer ir ao sítio, quanto a ele, não se articula com nada além da perspectiva do prazer momentâneo. Dito de outra maneira, a arrumação faz parte de um projeto, enquanto o passeio é apenas vontade passageira e isolada. A força de vontade, portanto, nada mais é do que o resultado da projeção no futuro das conseqüências dos atos, projeção essa que permite avaliar o valor de cada vontade.
Cabe a pergunta: as crianças são capazes de força de vontade, ou são mais movidas por vontades passageiras? A resposta está do lado das vontades passageiras. Não quero dizer com isto que lhes falte força de vontade. Em certos casos, elas a possuem. O que quero enfatizar é que não raramente são mais motivadas por aquilo que as atraem momentaneamente do que por projeções de resultados possíveis. Isso se deve a duas razões. Em primeiro lugar, a dificuldade de descentração, tanto cognitiva quanto afetiva. Em segundo lugar porque, nessa fase da vida, anda não há (e nem deve haver) reais projetos, reais projeções consistentes para o futuro. O ‘aqui agora’ ainda permanece forte, como é forma motivacional maior a perspectiva de satisfações imediatas do que aquela de satisfações a médio e longo prazo.
Voltando ao tema da publicidade infantil, decorre do que acabamos de ver que os anúncios podem, de fato, despertar vontades porque incidem sobre a relativa inconstância dos quereres infantis. Como dito acima, é mais fácil despertar vontades em quem ainda não se fixou sobre quereres próprios do que em pessoas que já possuem algumas metas definidas. Logo, a resistência afetiva aos apelos publicitários corre o grande risco de ser fraca e, logo, de os anunciantes terem êxito em seduzir a criança a querer algo que, minutos antes de ver a publicidade, ela nem sabia que existia e, portanto, não desejava. Tanto é verdade, aliás, que, não raramente, vêem-se crianças num primeiro momento encantadas em receber o objeto cobiçado desde o momento em que o viram num anúncio, e num segundo (às vezes poucas horas depois), desinteressarem-se completamente dele. Diga-se, de passagem, que o atual mundo do consumo vive dessas ‘ilusões’: se as pessoas comprassem apenas aquilo que corresponde a necessidades e projetos pessoais, não haveria tanta gente nos shoppings. Mas os adultos são responsáveis por aceitarem ser iludidos, as crianças, não.
E os adolescentes? Vimos acima que no que tange à autonomia intelectual e autonomia do juízo moral, destacavam-se das crianças, não cabendo, portanto, as mesmas ponderações. Na dimensão afetiva da resistência às pressões da publicidade, o quadro é diferente.
Por um lado, é claro que os adolescentes são bem mais capazes do que as crianças de descentrações afetivas e força de vontade. Logo, a publicidade não encontra, neles, indivíduos tão inconstantes em seus quereres. Porém, seria um erro pensar que já possuem projetos claros, investimentos afetivos a longo prazo. Eles ainda estão à busca da construção de suas identidades, ainda inconstantes nos seus desejos e, portanto, alvo ainda frágil das pressões publicitárias. Efeitos nocivos da publicidade não estarão tanto em fazê-los comprar todo e qualquer objeto contanto que bem apresentado (como é o caso para os brinquedos infantis), mas sim em levá-los a adquirir coisas que para eles se associam à busca identitária (roupas, por exemplo). Como a construção de identidade é coisa da maior importância, deve-se evitar que ela seja influenciada por mensagens de pessoas cujo objetivo não é de forma alguma ajudar o adolescente a ‘se encontrar’, mas sim, aproveitar suas dúvidas e hesitações para obter lucro com a venda de objetos e serviços. O adolescente também precisa, portanto, ser protegido.
3) Compreensão da realidade
No texto do decreto está escrito, como citado acima, que as crianças e adolescentes não têm a ‘mesma compreensão da realidade que um adulto’. Lê-se também que no CDC consta “a deficiência de julgamento e experiência da criança”, e no Decreto se repete o termo ‘deficiência de julgamento, acrescido dos conceitos de ‘ingenuidade’ e credulidade’.
Antes de mais nada, é preciso sublinhar a infeliz escolha do termo ‘deficiência’. Pelo menos em Psicologia, não existe em absoluto referência a essa suposta deficiência. Que o intelecto infantil é menos sofisticado que o do adulto, sabe-se muito bem. Mas que isso seja descrito como deficiência pode levar a negar toda a riqueza do pensamento das crianças.
Ora, sabe-se – e todas as teorias do desenvolvimento o afirmam – que a criança tem uma inteligência extremamente ativa, que é muito observadora, que estabelece relações entre os fenômenos que presencia e entre as idéias que tem ou que percebe nos outros. Portanto, do ponto de vista funcional, não há diferença entre a inteligência adulta e a infantil, e muito menos deficiência da segunda em relação à primeira.
Em compensação, há diferença de estrutura.
Dos 2 aos 7 anos em média, a criança ainda não possui as ferramentas intelectuais necessárias ao estabelecimento de demonstrações lógicas e a perceber e superar as contradições quando presentes nos raciocínios próprios e nos dos outros. E dos 7 aos 12 anos, sempre em média, embora tais ferramentas já tenham sido construídas, permanecem apenas aplicáveis a situações concretas, concreto significando referência às experiências vividas, e não virtuais ou possíveis. Dito de outra forma, ela está no mundo do real, e não do possível. A partir dos 12 anos, suas estruturas mentais assemelham-se às do adulto, faltando-lhe, é natural, o acúmulo de conhecimento e experiências de vida que esse último não deixará de ter.
Portanto, é correto dizer que a criança não tem a mesma compreensão do mundo que o adulto, se for entendido com essa afirmação que, além da menor experiência de vida e de menor acúmulo de conhecimentos, ela ainda não possui a sofisticação intelectual para abstrair as leis (físicas e sociais) que regem esse mundo e avaliar criticamente os discursos que outros fazem a seu respeito.
No que diz respeito à sua relação com a publicidade a ela dirigida, é claro que muitos de seus elementos podem muito bem ser compreendidos pela criança. Note-se que tais anúncios costumam ser bem simples do ponto de vista da elaboração intelectual. Aliás, se não o fossem, deixariam a criança desatenta e desinteressada.
Porém, não devemos esquecer que a publicidade é um discurso, com frases e imagens. Mais ainda: é um discurso sobre o possível, sobre o virtual, pois fala de algo e de situações que freqüentemente não correspondem a experiências vividas pelo pequeno consumidor cobiçado. Logo, para avaliar seu real valor, para perceber possíveis contradições ou falta de precisão, são necessárias estruturas operatórias. Tomemos um exemplo. Há propagandas de brinquedos – carrinhos, bonecas, jogos, etc. – que são feitas de tal forma que trazem uma imagem deles diferente do que são na realidade. Tais propagandas não ‘mentem’ a respeito do que seja o brinquedo, mas certamente podem enganar quem as assiste em relação aos efeitos que prometem, se comprados. Vêem-se, por exemplo, carrinhos fazendo piruetas espetaculares, piruetas essas que, na realidade, de fato dão, mas cujo espetáculo é, quando se os tem na frente dos olhos, muito inferior àquele apresentado, graças a jogos de imagens cuidadosamente planejadas. Ora, para avaliar a distância que não deixará de haver entre as imagens mostradas na televisão e a realidade (e isto sem experiência própria de tal distância), é preciso as ferramentas intelectuais de que falamos, é preciso avaliar a relação entre o ‘real’ (no caso, o que se está vendo na tela) e o possível (o que será quando manipulado com as próprias mãos). Isto nem é sempre fácil para adultos, e menos ainda para crianças de até 12 anos, sobretudo, para as de até 7 anos. Nesse ponto, podemos falar em ‘ingenuidade’ (acreditar que o que se vê na tela corresponderá necessariamente ao que se terá nas mãos) e em credulidade, pelas mesmas razões, acrescidas daquelas que comentamos a respeito da importância das referências infantis a figuras de prestígio e de autoridade.
Logo, é certo que certas propagandas podem enganar as crianças, vendendo-lhes gato por lebre, e isto sem mentir, mas apresentando discursos e imagens que não poderão ser passados pelo crivo da crítica.
Conclusões
Resumamos o que foi exposto acima:
1. Começamos por lembrar que, se a publicidade desperta desejos de consumo, tal realidade não diz respeito apenas à criança, mas sim a todos, crianças, adolescentes e adultos. Se a pessoa for pobre, tal exposição ao mundo sedutor das compras pode, de fato, levar a variadas frustrações e, em alguns casos, a formas violentas de se apoderar dos objetos cobiçados. Tais frustrações e atos violentos também não dizem respeito apenas ao mundo da infância. Quanto a esse mundo, podem ocorrer conflitos intrafamiliares, decorrentes da impossibilidade de os pais atenderem aos pedidos de seus filhos, pedidos às vezes decorrentes da sedução produzida pela publicidade. Pode também ocorrer de os pais, para fugir dos conflitos, (ou por serem eles mesmos inspirados por padrões de consumo) gastarem seu dinheiro comprando objetos veiculados na mídia, e, em conseqüência, deixarem de dar a seus filhos coisas importantes ou necessárias para a sua educação.
2. Sendo as crianças de até 12 anos em média ainda bastante referenciadas por figuras de prestígio e autoridade – não sendo elas, portanto, autônomas, mas sim heterônomas – é real a força da influência que a publicidade pode exercer sobre elas, força esse que pode ser sensivelmente aumentada se aparecem protagonistas e/ou apresentadores de programas infantis. Os adolescentes, embora já em parte liberados de referência a autoridades, estão sujeitos a influências externas no que tange ao delicado e importante processo de construção de suas identidades.
3. Não tendo as crianças de até 12 anos construído ainda todas as ferramentas intelectuais que lhes permitiram compreender o real, notadamente quando esse é apresentado através de representações simbólicas (fala, imagens), a publicidade tem maior possibilidade de induzir ao erro e à ilusão. Tal não se aplica a adolescentes.
4. As vontades infantis costumam ser ainda passageiras e não relacionadas entre si de modo a configurar verdadeiros objetivos. Logo, as crianças são mais suscetíveis que os adolescente e adultos, de serem seduzidas pela perspectiva de adquirem os objetos e serviços a elas apresentados pela publicidade.
De tudo que foi exposto, deduz-se que, de fato, as crianças e, em parte, os adolescentes devem ser protegidos e, portanto, que é necessária uma regulação precisa e severa do mundo da publicidade para crianças.
Acrescentaria rapidamente dois pontos a serem, a meu ver, contemplados.
O primeiro diz respeito à presença de crianças como atrizes nas propagandas. Além dessa presença infantil poder ter influência sedutora sobre o público infantil, aproveitando-se de seu nível de crítica ainda pequeno, faz com que as crianças atrizes sejam colocadas em evidência, o que pode trazer prejuízos para a preservação de sua privacidade e intimidade. Sabe-se que a construção da intimidade se dá durante a infância e que a capacidade de defendê-la, ou seja, de controlar o acesso de outrem ao ‘eu’, é de suma importância para o equilíbrio psicológico humano. É de se temer que a exposição decorrente da participação em publicidade (em geral querida pelos pais que se deliciam com a fama dos filhos) cause prejuízo à referida construção. Penso que, também nesse campo, a criança deva ser protegida.
O segundo ponto refere-se às propagandas que não visam a criança como consumidor, mas sim como comprador. Por exemplo, no dia das mães e dos pais, não raras são as propagandas dirigidas a crianças para que comprem objetos (como celulares) que não servirão para seu consumo próprio, mas sim para serem dados de presente. Não sei se o Decreto também incidiria sobre esse tipo de publicidade que é dirigida para o público infantil para vender objetos adultos. Note-se que esse tipo de publicidade freqüentemente coloca em cena relações pais-filhos, e que tais relações podem ser mal trabalhadas. À guisa de exemplo, lembro-me de uma publicidade na qual se vê um menino presenteando a mãe com um celular e a deixando acreditar que ele se esforçou (economizando a mesada, supõe-se) para dar tal presente. Trata-se, de uma cena de clara mentira, de flagrante enganação porque aprendemos, pelo pai, que o celular em questão custa apenas 1 Real. Ora, a mãe, ao invés de ficar desapontada e brava com o filho, limita-se a dizer que ele é avarento como o pai e tem bom gosto como ela. Trata-se, portanto, de uma reação ‘educacional’ que contraria todo e qualquer valor moral. Pior ainda: se os pais são os primeiros a acobertarem ou até mesmo incentivarem as transgressões morais dos filhos, não há autonomia nem até mesmo heteronomia possíveis: há anomia. Parece-me que tais propagandas são nocivas para as crianças e que alguma lei deve poder impedir a sua divulgação.
Gostaria de finalizar o texto fazendo uma ponderação de ordem geral. É louvável que se criem lei que protejam a criança de influências externas, as quais ela tem dificuldade de perceber, e às quais tem poucos recursos para resistir. Todavia, em se tratando do consumo, onipresente na sociedade atual (fala-se mais em consumidores do que em trabalhadores), por melhores que sejam as leis de proteção, a criança ainda será submetida a uma avalanche de mensagens sedutoras e será ela mesma uma consumidora. Logo, além de protegê-la, é preciso prepará-la para ser uma consumidora consciente. Isso se faz com educação. Não esqueçamos que o Brasil já criou um instrumento para preparar os alunos para o mundo do consumo e do trabalho. Trata-se do documento intitulado ‘Consumo e Trabalho’, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Como fui consultor dos PCNs, sou suspeito para defender a sua qualidade. Todavia, posso dizer que mesmo que não se aprecie o referido documento, mesmo que não se concorde com a estratégia pedagógica da transversalidade, o fato é que uma proposta nacional existe e que ela pode servir de ponto de partida (aliás, é esse os espírito dos PCNs: apresentar idéias de ordem geral que deverão ser concretizadas respeitando as características de cada Estado, cidade, Município, e até de cada escola) para empreitadas educacionais que são, a meu, ver incontornáveis, como é o caso da relação criança/consumo, criança/publicidade.