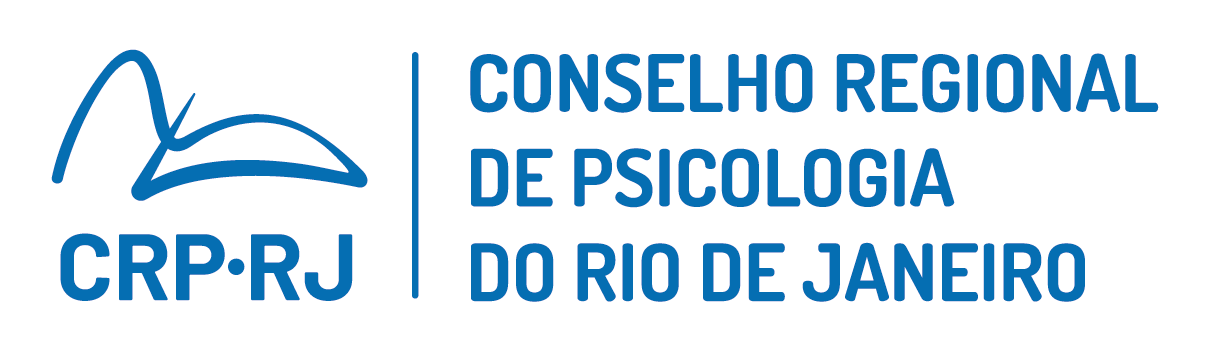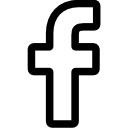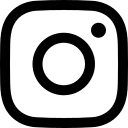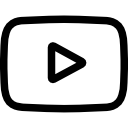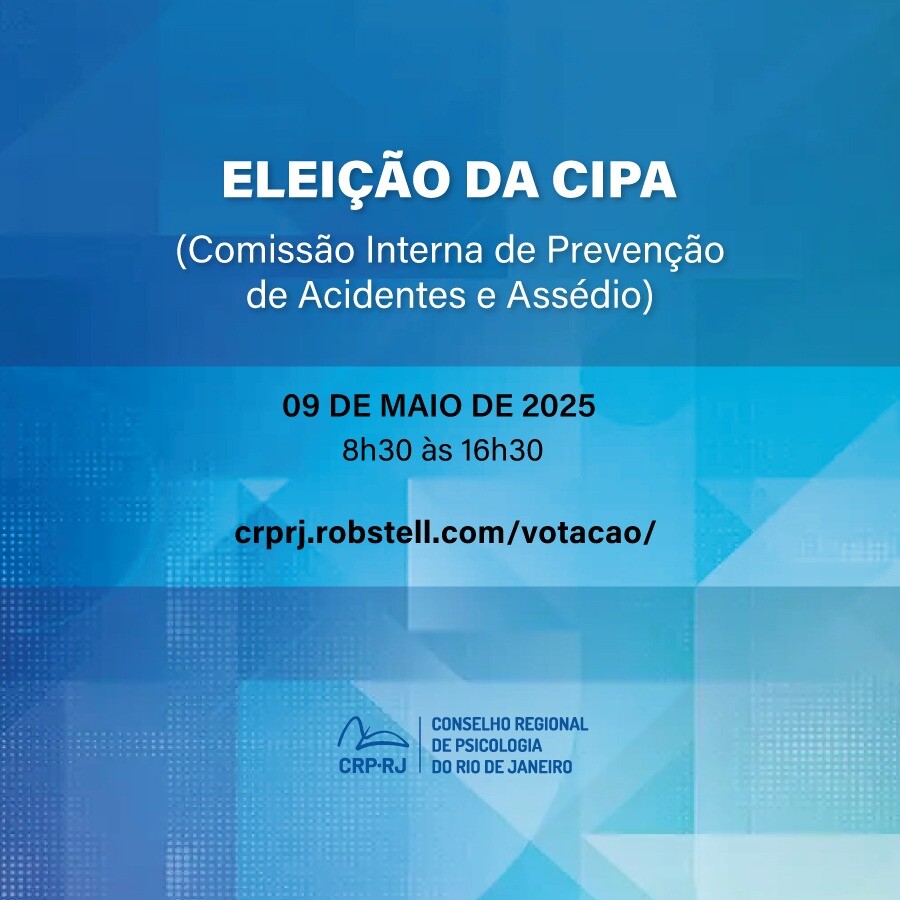O Conselho Regional de Psicologia, através da Comissão Regional de Direitos Humanos convida a reflexão sobre a data que marca o golpe civil-militar no Brasil. Cremos que memória é importante elemento sempre em disputa e, portanto, nos é fundamental o exercício de resgate das memórias da nossa coletividade para que possamos habitar o presente e compor futuros. No momento em que a psicologia brasileira é importante instrumento de promoção dos direitos humanos, a defesa do estado democrático de direito torna-se basilar ao exercício profissional da psicologia.
O golpe de Estado que instaurou uma ditadura civil-militar-empresarial por 21 anos foi iniciado em 31 de março, perpetrado na madrugada do dia 1 de abril de 1964 e consolidado no dia 2 de abril, quando o então presidente da Câmara Federal, Ranieri Mazilli, decretou a vacância do cargo de Presidente da República, assumindo interinamente a presidência do país. Em 9 de abril, foi editado o AI-1 (Ato Institucional número 1), decreto militar que depôs o presidente e iniciou as cassações dos mandatos políticos. No mesmo mês, o marechal Castello Branco foi empossado presidente com mandato até 24 de janeiro de 1967. Neste mesmo ano estavam previstas eleições, inclusive para a presidência da república. O que só veio a acontecer, sob a forma de eleição direta, em 1989.
O regime ditatorial restringiu o direito do voto, a participação popular e reprimiu com violência todos os movimentos de oposição. Castello Branco esteve à frente do primeiro governo militar (1964 a 1967) e deu início à promulgação dos Atos Institucionais. Entre as medidas autoritárias de seu governo destacam-se: suspensão dos direitos políticos dos cidadãos; cassação de mandatos parlamentares; eleições indiretas para governadores; dissolução de todos os partidos políticos e criação de apenas dois: a Aliança Renovadora Nacional (Arena), que reuniu os governistas, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que reuniu as oposições consentidas. Em fins de 1966, o Congresso Nacional foi fechado e foi imposta uma nova Constituição, que entrou em vigor em janeiro de 1967. Na economia, dentre outros atos, o governo revogou a Lei de Estabilidade no Emprego, proibiu as greves e impôs severo controle dos salários. Diz-se que Castello Branco planejava transferir o governo aos civis no fim de seu mandato, mas setores radicais do Exército impuseram a candidatura do marechal Arthur da Costa e Silva (1967-1969).
A ditadura nunca foi branda! Nos primeiros 90 dias do governo de Castello Branco, milhares de pessoas foram presas, começaram a acontecer as primeiras torturas e assassinatos. Até o mês de junho de 1964, foram cassados os direitos políticos de 441 cidadãos, entre eles três ex-presidentes, seis governadores, cinquenta e cinco congressistas, diplomatas, militares, sindicalistas, intelectuais. E mais: 2.985 funcionários públicos civis e 2.757 militares foram demitidos/expurgados ou forçados à aposentadoria/reforma, nesses dois primeiros meses. Também foi elaborada uma lista de 5 mil “inimigos” do regime.
Foram necessários anos de luta incansável dos familiares de mortos e desaparecidos, exigindo a elucidação dos crimes ocorridos durante a ditadura civil-empresarial militar para que a Comissão Nacional da Verdade (CNV) fosse finalmente criada, em 2011, iniciando seus trabalhos no ano seguinte. Foi tardia, instituída praticamente 50 anos depois do golpe de 1964, sem o poder de punição, apenas de convocação, ainda assim, teve importância na tentativa de produzir memória desse período nefasto e violento da história do país. Construindo uma narrativa de memória e verdade sobre as violências e práticas repressivas do Estado durante a ditadura iniciada em 1964, a CNV formulou 29 recomendações para que o Estado tivesse ferramentas para promover justiça com relação aos crimes ocorridos no período, e aperfeiçoar suas instituições e a democracia, visando a não repetição das graves violações de direitos humanos que ocorreram no período. Quase nada foi feito nesse sentido.
E como efeito da lógica que produz ditaduras, um dos objetivos dos atos violentos e repressivos do Estado é o de controlar o corpo social e aniquilar sua capacidade de resistência e contestação a esse status quo. Ou seja, produz-se da uma distinção entre vidas que devem ser protegidas, preservadas, e vidas indignas, que não têm “merecimento” para serem protegidas pelo Estado.
Assim, o ódio ao diferente, cada vez mais utilizado como dispositivo político, contribui para produção de uma sociedade amedrontada e dividida, tornando-se mais facilmente sujeitada a abrir mão de direitos conquistados arduamente em troca de falsas promessas de estabilidade econômica e suposta paz social (Pax Romana – segurança, ordem e progresso).
Somos testemunhas da existência de verdadeiros Estados de exceção. No primeiro trimestre de 1999 foram registradas 434 mortes, no estado do RJ, em ações/operações das forças policiais em comunidades populares de baixa renda, que é o número mais alto (por trimestre) de letalidade violenta desde o início da série histórica, em 1998, feita pelo ISP RJ (Instituto de Segurança Pública RJ). Até novembro de 2018, em todo o estado do RJ, foram registradas 1.444 vítimas, o que é equivalente a uma morte a cada cinco horas e meia. Apenas no município do Rio, o mesmo ISP RJ publicou estatísticas de 2018 dando conta de 558 mortes por letalidade violenta de agentes do Estado. Dessas pessoas, 74,5% eram negros e pardos, e 99, 46% homens jovens.
As mulheres foram excluídas de todo e qualquer direito político durante séculos no Brasil (e no mundo). A Carta Outorgada do Império (1824) e a primeira Constituição da República (1891) não nos concederam o direito de votar e nem de sermos votadas. A negação do direito ao voto persistiu até as primeiras décadas do século 20. Lutamos pelo acesso à educação de forma geral e especificamente ao acesso à Universidade. Para empregar-se a mulher tinha que depender da permissão do pai ou do marido. Éramos (??!!) portanto, consideradas cidadãs de segunda categoria. Somente mais recentemente a história da resistência da mulher começou a ser desvelada publicamente.
Atualmente coletivos de mulheres, dentre outras pelejas, lutam pelo direito de domínio legal de seu próprio corpo e contra o feminicídio – crime (tipificado por lei desde 2015) que configura o assassinato de mulheres pela condição de ser do sexo feminino – que a cada dia cresce. No Rio de Janeiro, somente computando-se os registrados em 2018, foram 70 casos, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), quase seis casos por mês. Se ampliarmos para todo território nacional, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de assassinatos, em 2018, chegou a 4,8% para cada 100 mil mulheres, ficando o Brasil em quinto lugar no mundo com relação a este tipo de crime. Em maio de 2019, em um conhecido programa de TV, foram apresentadas estatísticas que dão conta de que pelo menos três mulheres são assassinadas por dia (em crimes tipificados como feminicídio) no país.
Sobre homofobia, transfobia e violência contra o segmento LGBTQ+, de acordo com o Mapa dos Casos de Assassinatos de Travestis, Mulheres Transexuais e Homens Trans no Território Brasileiro, publicado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), até 13/05/2019 ano foram registrados 48 casos de assassinatos de pessoas trans. No ano de 2018, pela mesma entidade, há informação de que ocorreram 163 assassinatos de pessoas trans no país. Em números absolutos, o Rio de Janeiro foi o que mais matou pessoas trans em 2018. Foram 16 assassinatos registrados. Convém lembrar, entretanto, que o número de subnotificação é enorme, aumenta a cada ano e esses foram os casos que puderam ser registrados. Dos inquéritos concluídos, 96% foram arquivados.
O Relatório de 2018 do Grupo Gay da Bahia registrou 420 mortes – por homicídio ou suicídio – de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, ressalvando que é enorme a subnotificação. A mesma publicação assinalou que, em 2017, atingiu-se o número recorde de 445 mortes. Esses números significaram 1 morte a cada 19 horas e 40 minutos, por assassinato ou suicídio. Segundo a organização, houve um aumento de 30% dessas mortes em relação ao ano anterior.
A esses “perigosos”, somam-se a cada dia tantos outros segmentos, como por exemplo, os sem terra no campo, os sem moradia nos centros urbanos, os ativistas de direitos humanos, os ecologistas, algumas categorias profissionais como, atualmente, os professores…
O Brasil é considerado um dos países mais perigosos do mundo para os defensores/ativistas de Direitos Humanos. Relatórios da Anistia Internacional, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA) e da organização não-governamental Front Line colocam o Brasil entre os quatro países líderes em homicídio de ativistas (ao lado da Colômbia, Filipinas e México).
Órgãos como o Conselho Nacional de Direitos Humanos assinalaram que o país teria mais de 400 mil pessoas vivendo em situação de rua. Em setembro de 2017 um conjunto de entidades brasileiras e de movimentos sociais enviou denúncia a vários organismos da ONU sobre o cenário de violência enfrentado pelas pessoas em situação de rua no Brasil. O Estado aparece como principal agente violador de direitos dessa população, segundo os dados trazidos pelo Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos. A maior parte das denúncias encaminhadas ao Centro davam conta de terem sido cometidas por agentes públicos (65%).
A perspectiva individualizante, como tem sido tratado até então o tema da violência de Estado, privatiza/individualiza os danos apenas nos denominados atingidos diretos, além de invisibilizar o aspecto da resistência/potência de pessoas, grupos/segmentos e de opositores às ideias, seja ao regime ditatorial de outrora ou de ativistas contra a violência institucional atual, invisibiliza também os efeitos sobre os demais atores sociais, comunidades e nossa sociedade como um todo.
É preceito fundamental de nosso código de ética a oposição às variadas formas de violência e a ditadura civil-militar, durante seus anos de vigência produz na sociedade brasileira um modo de violência diretamente perpetuada como a própria política de Estado. Como efeito, a produção de medo e de silenciamento é fantasma que até hoje permeia os variados espaços coletivos.
Em 2013 o Conselho Federal de Psicologia publica o documento A verdade é revolucionária: testemunhos e memórias de psicólogas e psicólogos sobre a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985)[1] Importante registro que recupera a perspectiva de diferentes pessoas nos mais diversos estados Brasileiros que, desde a psicologia viveram o processo de um Estado ditatorial. Cremos por fim que denunciar as formas autoritárias de aniquilação da vida física e subjetiva é produzir uma psicologia alinhada com os direitos humanos, com as políticas públicas e com formas emancipatórias de pensar e viver em sociedade.
[1] Disponível em https://site.cfp.org.br/publicacao/a-verdade-e-revolucionaria/