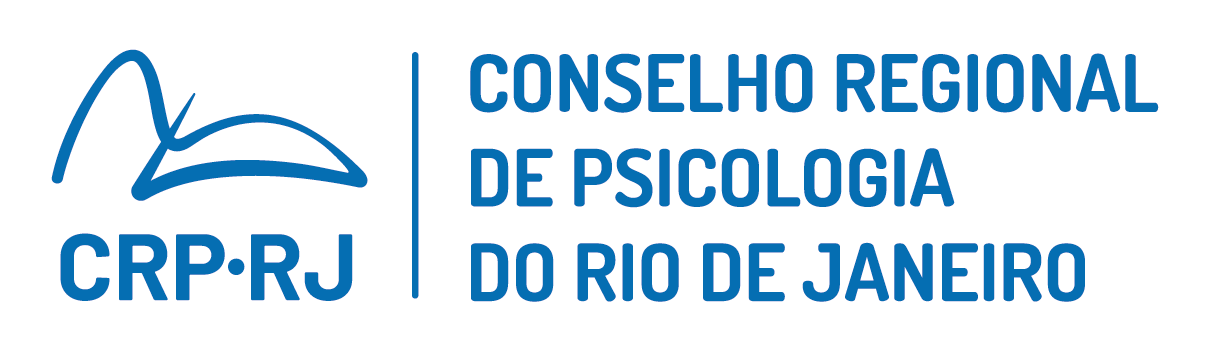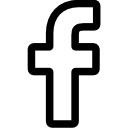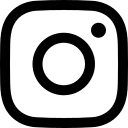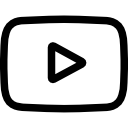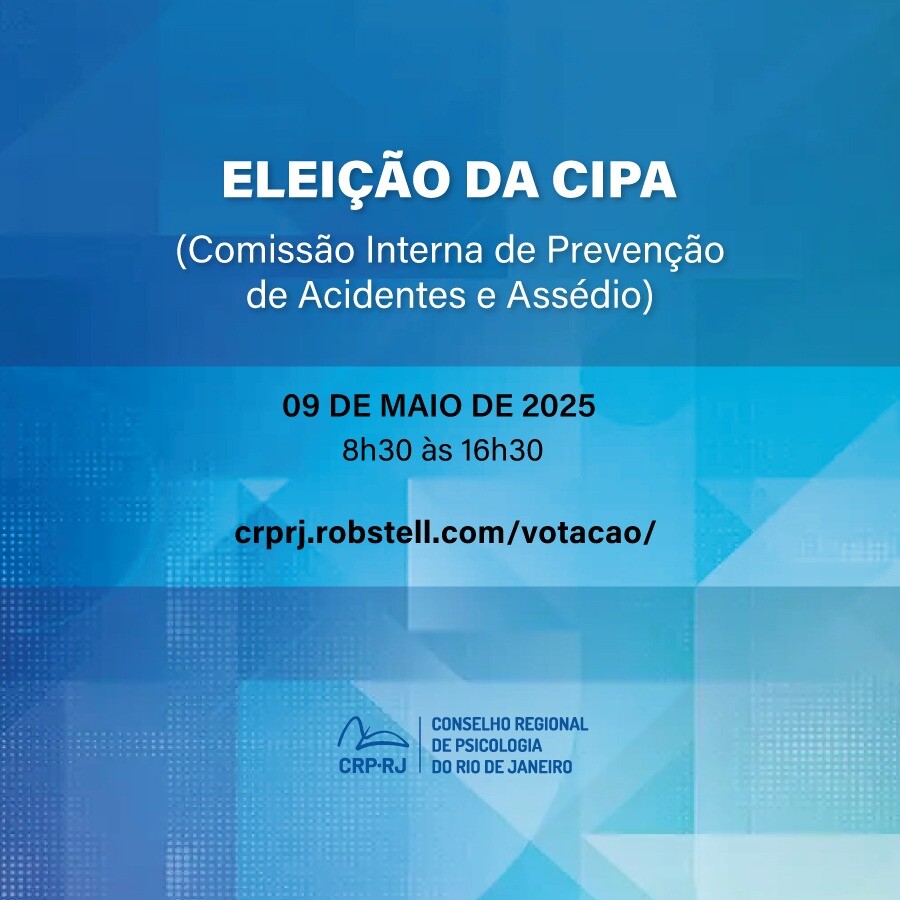A segunda atividade do Seminário foi a mesa de debates “Maternidade e Drogas: uma relação possível?” mediada pela psicóloga colaboradora da Comissão Regional de Direitos Humanos, da Comissão Especial de Psicologia e Saúde e Comissão de Psicologia e Políticas Públicas do CRP-RJ e integrante do Fórum de População Adulta em Situação de Rua, Júlia Horta Nasser (CRP 05/33796).
A primeira fala foi de Luana da Silveira, psicóloga, docente da UFF/Campos dos Goytacazes e consultora da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, que abordou a problemática das parturientes usuárias de crack.
“O problema das usuárias de crack grávidas ultrapassou as paredes da maternidade e acabou parando nas mãos dos assistentes sociais. Daí eu pergunto: onde estão os psicólogos nessa questão? As maternidades começaram a argumentar que havia dificuldade de lidar com a usuária de crack, inclusive pontuando uma diferença entre a usuária de crack em relação as usuárias de outras drogas”, explicou.
“A questão da mulher em situação de rua usuária de droga está aparecendo agora”, argumentou, “e, somado a isso a gente pensa no cenário do Rio de Janeiro pré-Copa do Mundo, quando houve um aumento da população de rua e um grande movimento de ‘limpeza’ e ‘higienização’ das ruas. É com isso que começamos a ouvir falar mais sobre o uso abusivo de crack”.
 “No meio desse cenário todo, vemos o problema da maternidade nos questionamos: por que a usuária não procura o pré-natal? É falta de acesso? Ou ela deixa para ir a maternidade somente no nascimento para tentar garantir a permanência da criança? É preciso uma proposta inclusiva e de não-judicialização, pois a políticas públicas são fragmentadas e não dão conta dessa demanda”, finalizou.
“No meio desse cenário todo, vemos o problema da maternidade nos questionamos: por que a usuária não procura o pré-natal? É falta de acesso? Ou ela deixa para ir a maternidade somente no nascimento para tentar garantir a permanência da criança? É preciso uma proposta inclusiva e de não-judicialização, pois a políticas públicas são fragmentadas e não dão conta dessa demanda”, finalizou.
Dênis Roberto da Silva Petuco, cientista social e especialista em redução de danos associada ao uso de álcool e outras drogas, iniciou sua fala citando as representações sociais dos usuários de crack em nosso país.
Conforme apontou, “em 2011, começaram campanhas prevenção ao crack em todo o Brasil e me ou muito a atenção como o usuário de crack era apresentado como monstro ou zumbi, em suma, um morto-vivo. É importante dizer que aqueles usuários de crack que apareciam nessas primeiras campanhas não são usuários de verdade; eram modelos contratos e cuidadosamente maquiados e vestidos para parecerem com o que os publicitários imaginavam que seria um usuário de crack”.
“Juntamente a essa imagem”, acrescentou, “são veiculadas também imagens de mães usuárias de crack, seguindo a mesma linha, uma mãe meio dormindo, meio morta, maltrapilha, sem casa e um filho à deriva, sem ninguém para protegê-lo. Paralelamente a essa campanha, começa a ser difundida uma ideia de que estaríamos vivendo uma epidemia de crack, tese essa só difundida por quem não trabalha e não tem nenhum contato com os reais usuários de crack”.
Segundo Dênis, uma pesquisa realizada por Francisco Inácio Bastos, um dos maiores especialistas nessa temática no mundo, chegou à conclusão de que o número de usuários de crack no Brasil não passava de 300 mil, o que, nem de longe, configura um quadro de epidemia.
“Então, pense que você tem toda uma produção midiática de um lado colocando o usuário de crack como zumbi e, de outro, colocando que existe uma epidemia de crack. Logo, há toda uma produção social para se acreditar que estamos vivendo um epidemia de zumbis. E o zumbi não é uma figura aterrorizante porque tem superpoderes, mas sim porque desperta nojo. Daí você começa a ter apoio da população para políticas públicas não de cuidados e de proteção, mas de limpeza do que é nojento”, concluiu.
Daniel de Souza, articulador do Consultório na Rua AP 3.2, redutor de danos e oficineiro do CAPS-AD Raul Seixas e coordenador do RAP da Saúde (Rede de Adolescentes e Jovens Promotores de Saúde) Jacarezinho, relatou um pouco sobre sua prática profissional no Consultório de Rua, seus impasses e desafios dentro da própria rede.
“Nos últimos três anos, fizemos o acompanhamento de 35 gestantes usuárias de crack, encaminhando-as para as unidades de saúde. Lembro de uma adolescente gestante que encaminhamos e que já estava no oitavo mês de gravidez. Quando foi para a maternidade, marcaram a consulta para dois meses depois! Enfim, a partir daí, começamos a formar uma rede de parcerias com as maternidades próximas porque nossa atuação é voltada para o sujeito e queremos que ele tenha seu atendimento. Não interessa se é usuário de crack ou se mora na rua, ele tem que ser assistido”, defendeu.
“A partir dessa força tarefa”, continuou Daniel, “conseguimos, nesses 35 casos que acompanhamos, que as crianças não fossem retiradas de suas mães. Então, orientamos que a criança fique com a alguém da família, com a avó, por exemplo, porque já ouvimos depoimentos de que essas mães não procuram o pré-natal porque lá tem alguém que toma o seu filho”.
 Na avaliação de Daniel, a situação atual do usuário de crack é muito próxima do portador de transtornos mentais. “Começamos a perceber que, assim como o doente mental, o usuário de crack é aquele sujeito que perde totalmente seus direitos. É nesse sentido que dizem que essa mãe não pode ficar com filho e tentam convencê-la de que ela não pode cuidar dessa criança. Isso é muito sério porque cada vez se criam mais espaços para segregar. Os espaços já estão dados, as maternidades existem, estamos falando de SUS. Não concordo que devemos fazer um lugar para mães que usam em crack em situação de rua e segregar mais ainda. É preciso dar acesso ao que já existe”.
Na avaliação de Daniel, a situação atual do usuário de crack é muito próxima do portador de transtornos mentais. “Começamos a perceber que, assim como o doente mental, o usuário de crack é aquele sujeito que perde totalmente seus direitos. É nesse sentido que dizem que essa mãe não pode ficar com filho e tentam convencê-la de que ela não pode cuidar dessa criança. Isso é muito sério porque cada vez se criam mais espaços para segregar. Os espaços já estão dados, as maternidades existem, estamos falando de SUS. Não concordo que devemos fazer um lugar para mães que usam em crack em situação de rua e segregar mais ainda. É preciso dar acesso ao que já existe”.
Por fim, André Rangel Oliveira Barbosa (CRP 05/19996), psicólogo do Centro de Pesquisa e de Ações Sociais e Culturais (ONG Contato), iniciou sua fala questionando: “Que critérios deveríamos seguir para que nossas práticas possam, de fato, avaliar se uma relação materno-filial pode ser violadora ou mantenedora de direitos?”.
Segundo ele, “devemos pensar não em famílias desestruturadas, mas sim em famílias possíveis dentro da realidade que se apresenta e em políticas públicas que deem conta das necessidades dela. E nós, profissionais de saúde, devemos pensar nos efeitos que nossas intervenções têm produzido e nas relações de poder que temos construído historicamente com os nossos assistidos, na qual há a desvalorização das subjetividades”.
O psicólogo teceu críticas ao modo como a atuação multidisciplinar muitas vezes se dá nessa rede de serviços. “O atendimento em rede fica parecendo um atendimento multidisciplinar no qual o assistido é que se desloca, tendo que repetir seus histórico e devendo se adequar à especificidade de cada profissional. Nosso desafio, portanto, é pensar numa rede que atenda o indivíduo de forma integrada, levando em conta sua subjetividade”.
“Cabe a nós, profissionais, fazermos um diálogo entre os nossos saberes com a subjetividade familiar e nos integrarmos nesse processo, nos transversalizando com esses saberes. Proponho que tenhamos uma escuta atenciosa sem os preconceitos estigmatizantes que nos povoavam anteriormente. Essas pessoas têm um saber de si em relação às suas realidade que não podemos desprezar”, defendeu André.
Final do evento
Na parte da tarde, após o término dessa mesa de debates, os participantes foram divididos em grupos de trabalho para debater propostas para às Conferências Nacionais de Saúde, Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente. Clique aqui e veja como foi.